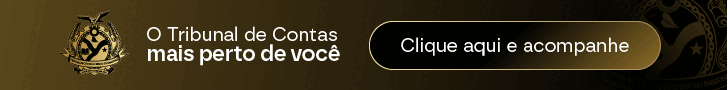A última lição do reitor
Primeiro li que o reitor da UFSC Luiz Carlos Cancellier, o Cao, havia sido preso numa “operação contra o desvio de 80 milhões de reais da universidade”. “É roubalheira pra tudo que é lado”, dizia uma jornalista, indignada. Lembro que achei aquilo esquisito. Bastou uma leitura mais atenta para descobrir que a acusação não era de roubo, mas de “obstaculizar investigações”. Ele era o reitor, afinal de contas. Havia o depoimento de uma professora contra ele, e era razoável que ele tivesse poder para fazer alguma coisa.
Foi preso, interrogado durante horas, despido, algemado, acorrentado pelos pés e levado a um presídio de segurança máxima. Por lá, chacota dos presos, revista íntima, uniforme cor de laranja. Depois de trinta horas, foi solto. Quando saiu, era outra pessoa. As notícias sobre o reitor que comandava a roubalheira em uma universidade pública haviam corrido mundo. Foi proibido de pôr os pés na UFSC, mas não era esse seu maior problema. O ponto é que ele já havia sido julgado. “Tinha vergonha de andar na rua”, conta o irmão. O crime poderia nem sequer existir. Mas o veredicto era perfeitamente real.
Duas semanas depois, em um domingo, foi ao Beiramar Shopping. No último andar, comprou ingresso para assistir a um filme, Polícia Federal — A Lei É para Todos, mas não se sabe se viu. É provável que estivesse preparando as coisas para o dia seguinte. Talvez calculando o ângulo e a altura da queda. Talvez não tenha tido coragem de resolver tudo naquele domingo mesmo. Ligou para o filho, disse que o amava. Ainda passou uma noite em claro, fumando muito. No dia seguinte, pela manhã, vestiu uma camisa da universidade, escreveu um bilhete lacônico, caminhou calmamente até o shopping e se lançou do sétimo andar.
A prisão e o suicídio de Cancellier, em 2017, voltaram à tona por estes dias, com o documentário Levaram o Reitor. É evidente que o tema é controverso, que havia, e ainda há, muito apoio ao tipo de operação realizada nesse e em outros casos. Mas há perguntas que precisam ser feitas. Havia realmente uma acusação consistente contra o reitor? Havia fatos, alguma “materialidade”, ou apenas suspeitas? Fazia sentido prender e destruir a reputação de uma vida sem ao menos um interrogatório prévio? E a espetacularização, o nome fantasia, “Ouvidos Moucos”, a menção aos 80 milhões, que depois se revelou absurda. Por fim as algemas, o presídio de segurança máxima, a degola pública. Tudo isso é aceitável e necessário, sob a ideia de justiça?
“Posso viver mais sessenta anos, não tem como recuperar”, disse Cancellier a um amigo. A internet criou uma memória infinita. Aquela informação havia corrido mundo. Era falsa. Não havia roubo de 80 milhões. Havia suspeitas, alguns depoimentos e uma dúvida sobre a condução das investigações. Mas isso no fundo não tinha importância. A notícia fez sentido, naquele momento. Permitiu preencher um pedaço de telejornal, deu gancho a um discurso moralista. E tinha lá sua verossimilhança, como observou um colega meu jornalista. Ele não era o reitor? Não tinha “poder pra fazer um monte de coisas”? Onde há fumaça, há fogo, não é mesmo? Então bola pra frente. Se alguém ficou pelo caminho, paciência.
Vai aí um traço do que os pós-modernos chamaram de hiper-realidade. A informação pode ser fantasiosa, mas seus efeitos são reais. Mesmo que aquelas acusações nunca se mostrassem verdadeiras, haviam sido gravadas na realidade. Mesmo que as pessoas se convencessem de que ele não tinha culpa no cartório, havia se tornado uma figura tóxica. Nos dias após a prisão, estudantes empunhavam cartazes dizendo “cadê os 80 milhões?”. As coisas só mudaram depois do gesto extremo. Dali em diante, os cartazes diziam outra coisa, o apelo moral mudou de lado, a acusação cessou. Tudo o que parecia tão sólido, para lembrar outro antigo pós-moderno, se desmanchou no ar.
“Sua única chance teria sido uma boa dose de niilismo”
Uma saída confortável é sugerir que se tratou de um caso “politicamente orientado”. Um “ataque à universidade pública”, como li em uma matéria, ou coisa do gênero. É sedutor pensar assim, mas a verdade é que as coisas são bem mais complicadas. A questão é sobre os usos do poder e os procedimentos da Justiça. Se é adequado prender e virtualmente condenar um cidadão a partir de um depoimento ou simples “suspeita”. Se isso respeita o devido “senso de proporção”, e se tudo não nos remete a um inaceitável processo de subjetivação da Justiça. Quando garantias constitucionais passam a depender de uma “tese” ou de um conjunto de “impressões” colhidas em um processo qualquer.
Nesse plano, o caso Cancellier não difere muito de episódios recentes envolvendo, entre outros temas, as restrições à liberdade de expressão. Talvez seja nosso destino. Nossa tradição de pessoalidade, na coisa pública, avessa aos regramentos abstratos e ao cuidado com os direitos individuais. Eventualmente há nisso os efeitos da “justiça da multidão”, como escutei, dias atrás, ou a simples histeria coletiva, volátil e seletiva, que vai desde a atual onda de “cancelamentos” até os processos voluntaristas conduzidos por instituições de Estado.
Há nisso tudo uma questão sobre o papel da imprensa, que só muito tarde soube fazer as perguntas inconvenientes. A mais relevante: qual era mesmo a materialidade daquela acusação? Não dou aqui a resposta cabal a essa questão, mas digo que ela permanece constrangedoramente pendurada no ar.
Há quem diga que Cancellier quis fazer de sua morte um gesto político. Não sei dizer. Vejo seu drama pelo prisma existencial. De alguém que se viu destruído por uma suspeita, em um mundo indiferente. A partir daí, fez a pergunta fatal, que Camus sugeriu não fazer: qual o sentido disso tudo? Aquele voo no escuro foi sua não resposta. Sua única chance, quem sabe, teria sido uma boa dose de niilismo.
O irmão do Cao diz que a família só quer justiça. Se descobrirem que ele cometeu algum crime, pedirão desculpas à sociedade e tentarão compensar o seu erro. Mas, se nenhum delito for encontrado, pedem apenas que o Estado faça o devido reconhecimento. De sua precipitação, que seja. Seu jeito estranhíssimo de tratar um cidadão brasileiro que não havia cometido crime nenhum.
Nossas democracias hoje envolvem milhões de pessoas opinando e julgando nos tribunais da internet. O barulho, as ondas de ódio e amor, como se viu nesse episódio, vieram para ficar. É precisamente por isso que aumentam as exigências sobre quem detém o poder. Exigências de que a lei seja aplicada e o crime combatido com prudência e objetividade. Atenção aos fatos, respeito ao devido processo legal e distância segura da tentação midiática.
Uma República não se faz de direitos fluidos. Direitos que podem significar muitas coisas, a depender da convicção de quem detém o poder, e que no fim do dia podem não significar mais coisa nenhuma. Quem sabe tenha sido essa a última, e imensamente triste, lição do reitor.
Fonte: Veja / Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper